
Divulgação Científica
Tem como explicar do começo? Desculpe, sou novo aqui
Claro que tem!
Em geral a gente associa a divulgação científica com um texto que explica conceitos e pesquisas científicas em linguagem que todo mundo entende. E é verdade.
Mas aqui nesse guia a gente quer mostrar que ela vai bem além disso. Especialmente para quem é professor, é na divulgação científica que está a chave para conectar muito conteúdo e assunto em sala de aula.
Até as redes sociais ficarem populares, as tais revistas de divulgação científica dominavam a cena da ciência explicada para leigos. Muita gente cresceu lendo revistas como National Geographic, Galileu e Superinteressante – inclusive, muita gente se tornou cientista sob influência delas.
Neste guia, você será convidado a reconhecer outros lugares onde a divulgação científica está. E também queremos trazer ideias para pensar a divulgação científica como uma forma de construir uma aula super envolvente e cheia de sentido.
Bom proveito do guia!
Tá bom, já sei o que é. Preciso mesmo deste guia?
Se não é a sua primeira vez diante da divulgação científica como estratégia de Ensino e Aprendizagem, ótimo!
Neste guia, queremos oferecer um espaço para pensar em formas de divulgar ciência sem cair nos clichês de que a ciência é neutra, perfeita e nada tem a ver com as questões sociopolíticas.
Como assim?
Queremos discutir as formas pelas quais a ciência é representada na sociedade e, principalmente, as formas pelas quais deveria ser. Desconstruir estereótipos sobre o cientista e a atividade científica.
Além disso, um dos grandes objetivos deste guia é ajudar a pensar em estratégias para que o conhecimento seja trabalhado de modo mais integrado, interdisciplinar e conectado com a realidade – desafio de qualquer professor de qualquer área.Apostamos na divulgação científica como um dos caminhos para isso. Estamos aqui para abrir a discussão e também ouvir de você 😊.
A interdisciplinaridade que você estava procurando
• • •
É um jeito de explicar ideias
• • •
Que são consideradas científicas.
• • •
Tem uma linguagem e estilo característicos
• • •
Procura atender a um rigor conceitual
• • •
Que é estabelecido pela comunidade científica
• • •
Se conecta com o público geral, busca ser acessível para todos os leitores e leitoras
• • •
Pode ser feita por qualquer um – sem restrições!
• • •
Contribui para a alfabetização científica das pessoas
• • •
E as ajuda a fazerem escolhas com conhecimento sabendo das consequências e razões.
Simplificada
Direto ao ponto, a divulgação científica:
Está ligada a um jeito de explicar ideias que em geral são consideradas científicas. Ela tem uma linguagem e estilo característicos, e procura atender a um rigor conceitual estabelecido pela comunidade científica
Se conecta com o público geral, busca ser acessível para todos os leitores e leitoras.
Pode ser feita por qualquer um – sem restrições!
Pode ser feita em qualquer ambiente ou mídia, não precisa ser no formato de artigo!
Ela contribui com a alfabetização científica e ajuda as pessoas a fazerem escolhas com conhecimento sabendo das consequências e razões.
Diferença em relação ao artigo científico
A melhor forma de entender como um artigo de DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA não é um ARTIGO CIENTÍFICO, é olhando para exemplos reais. Veja dois trechos de artigos que explicam basicamente a mesma coisa: como a cocaína age no cérebro.
Um artigo científico
COCAÍNA: ASPECTOS TOXICOLÓGICO E ANALÍTICO
A cocaína atua em diversas regiões do cérebro, causando uma série de alterações neuroquímicas, mas as suas ações mais conhecidas são evidenciadas pelo bloqueio da recaptação de neurotransmissores no sistema nervoso central, resultando no aumento da concentração destes nas junções sinápticas. Ela afeta especialmente as áreas motoras, produzindo agitação intensa, interagindo com os neurotransmissores, tornando imprecisas as mensagens entre os neurônios1 (CÉREBRO E MENTE,1999). 1 Note que o texto científico sempre faz citações para corroborar afirmações. O de divulgação, nem sempre.
A cocaína também afeta outros sistemas de neurotransmissão, como os que utilizam noradrenalina, endorfinas, GABA e acetilcolina. O mecanismo de ação da cocaína é a inibição dos processos do tipo I da recaptação (norepinefrina e dopamina a partir da fenda sináptica ao terminal de pré-sináptica, que facilita a acumulação de noradrenalina ou dopamina na fenda sináptica.2 (…). 2 Note que o texto científico não tem a menor preocupação se só um leitor muito especializado consegue entender tantos termos técnicos juntos.
A ação no transporte de dopamina é a mais importante, pois reforça os efeitos da cocaína no organismo, o que leva à dependência. Os efeitos de prazer ocasionados pela cocaína são devidos principalmente ao fato de a cocaína inibir a recaptação neuronal de dopamina, deixando muita dopamina livre na fenda sináptica. Isso também ocorre com a noradrenalina e a 5 – HT, mas com menor significância (CARVALHO, 2006).
A dopamina, a noradrenalina e a serotonina depois de sintetizadas são armazenadas dentro de vesículas sinápticas. Quando chega um impulso elétrico no terminal nervoso, as vesículas se direcionam para a membrana do neurônio e liberam conteúdo, por exemplo, da dopamina, na fenda sináptica. A dopamina, então, atravessa essa fenda e se liga aos seus receptores específicos na membrana do próximo neurônio (neurônio pós-sináptico). Uma série de reações ocorre quando a dopamina ocupa receptores dopaminérgicos daquele neurônio: alguns íons entram e saem do neurônio e algumas enzimas são liberadas ou inibidas.1↥ Após a dopamina ter se ligado ao receptor pós-sináptico ela é recaptada novamente por sítios transportadores de dopamina localizados no primeiro neurônio (neurônio pré-sináptico). Quando a cocaína entra no sistema de recompensa do cérebro, bloqueia os sítios transportadores dos neurotransmissores acima mencionados (dopamina, noradrenalina, serotonina), os quais tem a função de levar de volta estas substâncias que estavam agindo na sinapse. Uma vez bloqueados estes sítios, a dopamina e outros neurotransmissores específicos não são recaptados, ficando, portanto, soltos no cérebro até que a cocaína saia.2↥, 33 Veja como esses dois trechos falam, basicamente, a mesma coisa.
Trecho extraído de:
DA CRUZ, Regina Alves; GUEDES, Maria do Carmo Santos. “COCAÍNA: ASPECTOS TOXICOLÓGICO E ANALÍTICO.” Revista Eletrônica FACP 4 2013. Disponível em <link> Acesso em: 22 nov. 2022.
Um artigo de divulgação científica
As trilhas do pó
Até pouco tempo atrás acreditava-se que os efeitos desse alcalóide extraído das folhas ovaladas da coca (Erythroxylum coca), arbusto comum na Bolívia, no Peru e no Equador, se devessem apenas a sua interferência no mecanismo de ação da dopamina, uma das moléculas naturalmente produzidas pelo organismo responsáveis pela comunicação entre células nervosas (neurônios). Aquele contentamento que surge com um aumento de salário há muito esperado é, em grande parte, efeito da descarga de dopamina no cérebro. A conquista dispara uma tempestade química no sistema nervoso central em que a percepção afetiva da informação está associada à liberação de dopamina, que carrega informação de uma célula nervosa a outra.1↥ Tanto a liberação da dopamina quanto sua recaptura ocorrem por meio de transportadores localizados na membrana dos neurônios que a produziram.
Mas ao chegar ao cérebro a cocaína causa um curto-circuito. Como uma comporta que barra um rio e faz as águas transbordarem4, a cocaína impede a recuperação da dopamina liberada e provoca uma espécie de inundação cerebral. Enquanto dura o efeito da cocaína, é como se o cérebro sofresse uma sobrecarga de dopamina por receber uma boa notícia, seguida de outra e mais outra, até que o efeito da droga passe.2↥4 Já o texto de divulgação usa metáforas e elas ajudam muito a descrever os processos.
Trecho extraído de:
ZORZETTO, Ricardo. As trilhas do pó – Composto inibe ação da cocaína e ajuda a elucidar sua ação no cérebro. Revista FAPESP: ed. 130, dez. 2016. Disponível em <link> Acesso em: 22 nov. 2022.
Note que o artigo científico parte de um pressuposto: que o leitor já sabe o que é o significado de cada um dos termos científicos mencionados e, por isso, não precisa fazer uso de exemplos e analogias como o texto de divulgação faz. O processo explicado é basicamente o mesmo nos dois textos, só que o texto de divulgação usa dois exemplos que fazem com que leitores não especializados consigam entender a ideia. Primeiro dá o exemplo do salário, depois o exemplo da barreira no rio. E essa é a beleza da divulgação científica, explicar ideias inacessíveis para um leitor, por meio de outras ideias que ele já tem.
De certa maneira, é como se no texto de divulgação, o autor fizesse um grande esforço para chegar até o leitor com uma mensagem que ele entenda da melhor maneira possível. No texto científico, é como se o leitor tivesse que se esforçar para chegar até a mensagem.
Como gênero do discurso
 Toda situação de comunicação envolve um texto, um enunciado (seja ele verbal ou não). Uma classificação muito usada para categorizar as diferentes situações de comunicação, é a de gêneros textuais. Ela foi primeiro desenvolvida por um filósofo da linguagem russo chamado Mikhail Bakhtin (1895- 1975).
Toda situação de comunicação envolve um texto, um enunciado (seja ele verbal ou não). Uma classificação muito usada para categorizar as diferentes situações de comunicação, é a de gêneros textuais. Ela foi primeiro desenvolvida por um filósofo da linguagem russo chamado Mikhail Bakhtin (1895- 1975).
Os gêneros do discurso podem ser entendidos como categorias de análise que nos permitem olhar para o que há de mais rico na comunicação: as interações sociais. Os gêneros olham, portanto, para quem produz (locutor) a mensagem (enunciados), quem recebe a mensagem (interlocutor), as condições de produção da mensagem, as relações de poder em jogo, a estrutura, o estilo e, obviamente, o próprio conteúdo da mensagem.
O que isso tem a ver com a divulgação científica? Tem a ver com o fato de que tanto o texto científico, quando o texto de divulgação científica, podem ser considerados gêneros do discurso e funcionam segundo certas características mais ou menos estáveis. Dá para perceber um certo padrão entre os diferentes textos de divulgação (sejam artigos, vídeos, infográficos, ou qualquer outra mídia).
E o melhor disso é que aí mora uma excelente oportunidade de tornar as coisas mais interdisciplinares em sala de aula. É entendendo, explorando e evidenciando essas questões que o conteúdo de ciências naturais começa a fazer sentido em outras áreas, como as ciências sociais e da linguagem, por exemplo.
Para saber mais sobre as relações entre os gêneros textuais e a divulgação científica, recomendamos a leitura destes artigos:
DA CUNHA, Marcia Borin; GIORDAN, Marcelo. A divulgação científica como um gênero de discurso: implicações na sala de aula. VII ENPEC, 2009. Disponível em: <link>
TARGINO, Maria das Graças. Divulgação científica e discurso. Comunicação & Inovação 8, n° 15, 2007. Disponível em: <link>
Veja aqui como isso funciona na prática.
Como prática de jornalismo
Quem sabe explicar melhor ao grande público um conceito ou questão da ciência: um(a) cientista ou um(a) jornalista?
Esta é uma questão apenas provocativa, porque o problema é bem mais complexo do que “explicar melhor”.
O fato é que a divulgação científica é sim parte do jornalismo. Dentre as várias missões do jornalismo, está também a de informar a população sobre temas da ciência. E, como prática jornalística, a divulgação científica compartilha a finalidade de outros textos jornalísticos: deve ser clara, objetiva, acessível, compatível com os canais de mídia e seus formatos, e de ser compreendida por todos.
Não por menos, quase todo jornal, revista, canal ou programa de jornalismo tem lá sua coluna/seção de ciência. E também há um movimento contrário: muitas plataformas de ciência e grupos de pesquisa acadêmicos se propõem a oferecer sua seção de jornalismo, para se conectarem com o público geral.
Explicar uma informação técnica para o público não especializado é uma tarefa complexa. Quando o(a) jornalista (e profissionais correlatos) se propõe a explicar um tópico da ciência, tem uma vantagem: sabe trabalhar a mensagem como alguém que é “externo” à ciência. É daí também que vem a desvantagem: precisam explicar ideias com clareza, sem dominar completamente o conteúdo que estão explicando.
Do outro lado, quando é o(a) cientista quem se propõe a divulgar ciência, já conta um segurança para navegar sobre o tema do qual é especialista. O desafio passa a ser justamente outro: como explicar de maneira clara um assunto que é muito complexo para quem é especialista nele.
Como prática da ciência
Talvez mais importante do que os divulgadores fazerem o esforço de despertar o interesse da sociedade para a ciência, seja a ciência incorporar a comunicação do conhecimento ao grande público como uma de suas tarefas.
Não necessariamente todos os cientistas estão interessados ou comprometidos a tornarem suas pesquisas e o conhecimento científico mais acessível, o que é uma pena. Todavia, ao pensarmos no valor que o conhecimento científico tem, é indispensável levarmos em conta que ele precisa ser democrático para ser relevante.
Além de produzir pesquisa, orientar decisões e promover o desenvolvimento tecnológico e científico, entendemos que a comunicação com o grande público é sim tarefa da ciência. Ela precisa lutar para que mais e mais pessoas consigam acessá-lo, principalmente porque a ciência e a produção do conhecimento são práticas essencialmente sociais.
Como instrumento para promover o conhecimento
Nada melhor do que dois exemplos que mostram como a divulgação científica é um instrumento poderoso para disseminar o conhecimento para toda a sociedade.
Neste primeiro, o texto mostra vários exemplos da importância da divulgação científica no combate à desinformação.
Neste segundo exemplo, o texto mostra como um produto de divulgação científica ajuda a ensinar sobre práticas antirracistas
Um vídeo
Os vídeos, especialmente em plataformas como o YouTube, podem até passar despercebidos como mídia de divulgação científica para quem está acostumado com o modelo mais clássico das revistas impressas de divulgação.
Porém, em uma plataforma na qual mais de 1 bilhão de horas de conteúdo é reproduzida DIARIAMENTE1 para públicos de todas as idades, poucos lugares são tão eficientes assim para comunicar conteúdo científico. 1 “25 YouTube Statistics that May Surprise You: 2021 Edition.” 2 Feb. 2021, <link>. Accessed 2 Nov. 2021.
Veja aqui um clássico exemplo no YouTube, um vídeo que explica de maneira bem didática como jogos online de guerra ou notícias negativas afetam o nosso cérebro.
Este canal, o ASAP Science, faz um excelente uso da plataforma do YouTube para entregar conteúdo aberto e de alta qualidade em termos de divulgação científica.
Um artigo
Pode-se dizer que os artigos de divulgação são os mais convencionais enquanto mídia de divulgação, se compararmos com os outros formatos. Ao menos até a chegada do YouTube, TikTok e outras redes sociais. Em geral, não muito extensos, com linguagem leve, didática e que procura fazer perguntas a partir da perspectiva do público geral.
Um exemplo disso é o artigo da Carola Carvalho, no blog do Pint Of Science.
A autora debate a pergunta: Por que Marte?
Um post
Exatamente! Às vezes a gente não se dá conta, mas até um post no Facebook conta como material de divulgação. Algumas páginas se especializam exatamente nisso, divulgar ciência usando o formato de post em rede social, como é o caso da página Compound Interest (em inglês).
E aqui um exemplo de post no Facebook que faz um bom trabalho de explicar por que não há alimentos naturais na cor azul.
Um anúncio
E cartazes informativos ou campanhas de conscientização contam também como material de divulgação científica.
Por exemplo, o folder disponível nesse link faz parte de uma campanha de conscientização sobre a Leishmaniose e alerta para a importância do tratamento. Além de cumprir essa função mais imediata, que é incentivar as pessoas a procurarem apoio, também traz algumas explicações sobre a própria doença e sobre os mitos relacionados a ela. Ou seja, alerta e também informa.
Pergunta & Resposta
Um formato muito usado pelos divulgadores de ciência é o Pergunta & Reposta, quando o expectador/leitor manda sua pergunta de interesse público e o divulgador (a) responde ele mesmo ou conta com o apoio de algum (a) cientista para esclarecer a questão.
O portal do Dr. Dráuzio Varella, por exemplo, tem uma seção inteira só de perguntas e respostas. E as revistas de divulgação quase todas têm uma seção de perguntas feitas diretamente ou indiretamente pelos leitores, como esta da Revista Ciência Hoje.
Ou esta, da revista Superinteressante.
Representações do cientista
O que vem à sua cabeça quando pensa em um cientista?
Para a maioria das pessoas o que vem geralmente é: um homem, branco, de inteligência acima do normal e, de alguma forma, alguém que é dono da verdade. Quem nunca usou esse argumento em uma discussão “mas os cientistas comprovaram que…”?

A verdade é que o cientista, desde o início da ciência, é representado assim. A autora Evelin Fox Keller em seu livro “Reflexões sobre gênero e ciência [Título em inglês: Reflexions on Gender and Science]” trata questões de gênero na ciência e mostra inclusive como que a ciência foi fundada intencionalmente para ser apenas dos homens. Nas palavras de seus próprios fundadores, a Royal Society fundada em 1660, que é considerada a primeira instituição de ciência, tinha por objetivo “formar uma Filosofia Masculina … pela qual a Mente do Homem possa ser enobrecida com o conhecimento das Verdades Sólidas” (Keller, 1996, p. 52). Documentos mostram como figurões da ciência não pouparam esforços para proibir as mulheres da ciência e para transformar o cientista em alguém que revela verdades, ou seja, é inquestionável.
Há também no imaginário das pessoas que o cientista é alguém neutro, ou seja, é digno de confiança porque não tem interesses pessoais envolvidos no que fala ou que faz – o que é uma grande mentira.
O fato é que essa visão dominou e ainda domina a história da ciência até os dias de hoje. E o pior: às vezes sem perceber, a divulgação científica reproduz essas ideias. Volta e meia, os textos de divulgação usam termos que evocam uma ideia de cientistas que revelam coisas magicamente, sozinhos, com uma genialidade que não pertence ao mundo dos meros mortais. Na ânsia de valorizar ou vender certa ideia, colocam o cientista ACIMA de tudo e de todos.
Qual o problema disso? Insistir nessa visão abre margem para uma série de catástrofes na própria ciência:
Faz parecer que para ser cientista, alguém precisa ser especial, super dotado. Isso já afasta a imensa maioria dos nossos estudantes da atividade científica.
Faz com que malucos e cientistas ganhem plateia por aí e espalhem absurdos. Afinal, de onde que os terraplanistas, anti-vacina, ou negacionistas do clima tiram suas ideias? De cientistas picaretas. Note que uma vez com um diploma na mão, qualquer um pode se intitular “cientista” e pode sair falando besteira por aí. Público para ouvir a acreditar, não falta. Por isso é que é mais saudável questionar a neutralidade do cientista do que dizem amém para qualquer coisa, só porque “ele é cientista”.
Um último problema que vale a pena mencionar (embora a lista seja ainda enorme), é o fato de que o próprio público geral não consegue acessar o conhecimento científico. Isso porque a ideia de conhecimento PURO, VERDADEIRO, UNIVERSAL, OBJETIVO, entra em conflito com o mundo real, com a cultura e com a história. Entra em contradição, pois o mundo e os saberes das pessoas é tudo menos dessa forma que a ciência dominante tenta vender. E isso afasta o saber científico dos saberes empíricos vivenciados pelo público da divulgação.
Lembre-se que a divulgação científica é a principal e uma das primeiras conexões entre o conhecimento científico e o público não cientista. Quando é a divulgação científica que reproduz esse determinismo, neutralidade e endeusamento do cientista, a visão sobre quem é o cientista já nasce errada na cabeça das pessoas.
KELLER, E.F. Reflections on gender and science. New Heaven, Yale
University Press, 1996.
Representações da atividade científica
Além do que falamos ali sobre como a divulgação representa o cientista, é importante também pensar em como ela representa a atividade do cientista, ou seja, o fazer ciência.
Se perguntarmos “o que faz o cientista”, muita gente vai responder: DESCOBRE coisas. Note que a palavra descobrir tem um significado muito forte. Dá a entender que existe uma coisa escondida que só o cientista é capaz de revelar – com isso, o conhecimento científico seria mais legítimo e verdadeiro do que o cultural, por exemplo.
Muita gente pode também responder: INVENTA/CRIA coisas. Nesse caso, a atividade científica pode ser confundida como algo mágico, miraculoso. Como se Einstein e Darwin tivessem desenvolvido suas teorias a partir do nada e sem ajuda de ninguém. Como se as grandes ideias fossem criadas do zero, sem uma longa história (às vezes de séculos) que conduz até a descoberta.
Uma vez que a ciência e o cientista possuem um poder exacerbado em relação às outras áreas, a ciência chega a ser endeusada e deixa de ser confrontada.
Por isso, a divulgação científica às vezes vai nessa mesma onda e não questiona os limites éticos da atividade científica, nem as consequências socioambientais. Sabe aquela expressão que as pessoas usam para legitimar algo que é errado “pelo bem da ciência” ou “em nome da ciência”? Ela é usada na maior parte das vezes de brincadeira, mas esconde um fato: experimentos de eugenia, testes em seres humanos e animais que violam a ética de pesquisa, além do roubo de espécimes e fósseis são feitos ainda hoje “pelo bem da ciência”.
Quando a ciência é sacralizada pela própria divulgação, a atividade científica ganha legitimidade pra fazer o que quiser independentemente das consequências morais, éticas e sociais. Ou seja, a ciência ganha permissão para matar seres humanos e animais, destruir habitats e causar danos irreparáveis sem que ninguém questione. Todavia, engana-se completamente quem acha que a ciência é neutra, não mata, não causa desigualdade e não atende a interesses econômicos – também.
Por exemplo, veja aqui um artigo de divulgação que mostra algumas atrocidades feitas “em nome da ciência”.
Outro exemplo claro é o fato de estudos para as chamadas doenças negligenciadas, como a malária ou doença de Chagas, receberem menos investimento é uma coincidência, mesmo afetando significativamente a vida de milhões de pessoas.
Por isso, como essas ideias de uma ciência “pura” infelizmente ainda fazem parte do senso comum e do imaginário de muitos cientistas e divulgadores de ciências, defendemos que a divulgação científica, para fazer sentido, precisa ser feito de modo muito consciente e lutar contra essas representações inadequadas do fazer ciência e do cientista.
Positivismo científico
E aqui cabe pensar nas razões pelas quais o imaginário coletivo sempre legitima a produção científica (das ciências naturais) acima de todos os outros saberes. O pesquisador e divulgador de ciência Carlos Fioravante nota que temos uma tendência a sermos otimistas em relação à ciência: “Nossa tendência é ser otimista porque confiamos no valor intrínseco da ciência, ou seja, tudo deve ir bem já que a pesquisa é feita para o bem da humanidade.” (FIORAVANTE, 2013, p. 328)
Porém, ele chama atenção para uma outra questão:
(…) a produção de conhecimento decorre da interação de grupos distintos de atores, não apenas de cientistas, com interesses igualmente distintos. A ciência torna-se então um fenômeno social e coletivo, que pode emergir, avançar ou morrer como resultado de negociações, conflitos e impasses entre os interessados. (FIORAVANTE, 2013, p. 317)
Ou seja, a produção de conhecimento não é algo que a ciência faz sozinha e depois distribui para os outros campos e atores se virarem com os resultados. Ela é, na verdade, feita por e com os outros atores interessados. Atores da política, da economia, empresários, das universidades e centros de pesquisa, sociedade civil, religiosos e todo tipo de atores possíveis. E, por isso, os divulgadores precisam ser mais questionadores e ir atrás das condições de produção e interesses que levam à produção de conhecimento, segundo mostra Fioravante em sua pesquisa.
Não existe essa história de conhecimento e de ciência desinteressados. E a divulgação precisa saber muito bem disso. Segundo Márcia da Cunha e Marcelo Giordan, pesquisadores da divulgação científica,
A ciência é uma prática social e, como tal, não pode ser vista como independente ou desvinculada do sujeito e das ideologias que o constituem. Do mesmo modo, a Ciência não surge do acaso, ela é fruto de um processo cultural e histórico. Todos estes fatores têm reflexo na constituição e estruturação do discurso da Ciência, seja ele, nos processos de disseminação do conhecimento da Ciência na academia ou nos processos de popularização da Ciência (divulgação científica)” (CUNHA & GIORDAN, 2009 p. 2)
Portanto, a ciência faz sim descobertas muito positivas e promove o desenvolvimento coletivo, melhora a qualidade de vida e o bem estar da sociedade. Porém, principalmente em sala de aula, é preciso entender como e a partir do que se queremos que nossos estudantes formem o pensamento crítico para ler as questões da sociedade e até mesmo serem melhores cientistas e divulgadores.
Para se aprofundar nestas questões:
FIORAVANTI, Carlos Henrique. Um enfoque mais amplo para o Jornalismo Científico. Intercom: Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. v. 36, n. 2, pp. 315-332, 2013. Disponível em: <link>
CUNHA, M.; GIORDAN, M. A divulgação científica como um gênero de discurso: implicações em uma sala de aula. In: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciência, 7, 2009, Florianópolis. Anais […]. Belo Horizonte: ABRAPEC, 2009. Disponível em: <link>
Ciência desproblematizada não faz bem
Por que será que o jargão “foi comprovado cientificamente” tem tanto peso assim na disputa de opinião?
Uma concepção de ciência muito importante a ser observada na divulgação científica vem da contribuição de alguns sociólogos da ciência como Bruno Latour, Pierre Bourdieu e Evelyn Fox Keller. Suas pesquisas do ponto de vista da sociologia mostram que a ciência funciona como um campo com grande prestígio e legitimidade sociais, detém poderes e suas afirmações são vistas como sendo sempre verídicas. Ou seja, a ciência chega a ser endeusada. Entretanto, não passa de um campo como qualquer outro, no qual até a própria noção de verdade e de um fato são construídos socialmente, uma vez que a ciência e o conhecimento são essencialmente sociais.
Para Bruno Latour, por exemplo, a arte da persuasão é o principal instrumento do cientista e a produção de artigos é a finalidade de suas atividades (Latour, et al., 1997). Ou seja, ao invés de descobrir fatos, dados, números e revelar o conhecimento, o cientista trabalha para construir uma verdade. Portanto, a ciência funcionaria como qualquer outro campo, a exemplo, a literatura. Ainda, um aspecto interessante apontado por Bruno Latour, é que na construção de verdades, o cientista o faz de modo tão convincente, que esse produto passa a ser visto como um fato, totalmente independente do pesquisador, do laboratório e até do referencial histórico.
O que queremos chamar a atenção aqui é para o fato de que a ciência precisa começar a ser problematizada também na divulgação científica, não só pela sociologia da ciência. Afinal, por causa da forma como nós educadores e a sociedade representamos a ciência, os estudantes simplesmente não são capazes de reconhecer as dimensões socioculturais da ciência. E acabam por não se reconhecer na ciência nem no conhecimento que ela produz. Daí eles geralmente seguem dois caminhos: ou não acreditam na ciência, ou tornam-se aqueles que reproduzem os estereótipos.
Ficção científica
Frequentemente na divulgação científica, os cientistas são retratados como capazes de editar, cortar, transformar e recriar o corpo humano e a natureza. Seja através do uso de imagens ou pela escolha de determinadas palavras, a atividade científica é às vezes supervalorizada de um modo que está mais para ficção científica do que outra coisa.
Embora possa ser verdade que a engenharia genética ou a exploração espacial tenham ganhado tanto território na ciência contemporânea, e nos tornaram menos capazes de distinguir o que é ciência ficcional do que não é, a divulgação da ciência precisa ser coerente com seu propósito e não iludir os leitores com manchetes falsas só para chamar a atenção.
Atualmente é possível enviar civis para o espaço, fazer entregas com drones autônomos, e criar órgãos humanos inteiros em laboratório. Novas técnicas, conceitos e instrumentos vão empurrando cada vez mais a fronteira da ficção para longe e jamais saberemos o limite.
Porém, continua sendo antiético quando divulgadores de ciência anunciam promessas e feitos que estão mais para conversa de político do que qualquer outra coisa, no intuito de tornar o texto mais interessante ou de chamar a atenção dos leitores.
 Definição
Definição
Simplificada
Simplificada
Direto ao ponto, a divulgação científica:
Está ligada a um jeito de explicar ideias que em geral são consideradas científicas. Ela tem uma linguagem e estilo característicos, e procura atender a um rigor conceitual estabelecido pela comunidade científica
Se conecta com o público geral, busca ser acessível para todos os leitores e leitoras.
Pode ser feita por qualquer um – sem restrições!
Pode ser feita em qualquer ambiente ou mídia, não precisa ser no formato de artigo!
Ela contribui com a alfabetização científica e ajuda as pessoas a fazerem escolhas com conhecimento sabendo das consequências e razões.
Diferença em relação ao artigo científico
A melhor forma de entender como um artigo de DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA não é um ARTIGO CIENTÍFICO, é olhando para exemplos reais. Veja dois trechos de artigos que explicam basicamente a mesma coisa: como a cocaína age no cérebro.
Um artigo científico
COCAÍNA: ASPECTOS TOXICOLÓGICO E ANALÍTICO
A cocaína atua em diversas regiões do cérebro, causando uma série de alterações neuroquímicas, mas as suas ações mais conhecidas são evidenciadas pelo bloqueio da recaptação de neurotransmissores no sistema nervoso central, resultando no aumento da concentração destes nas junções sinápticas. Ela afeta especialmente as áreas motoras, produzindo agitação intensa, interagindo com os neurotransmissores, tornando imprecisas as mensagens entre os neurônios1 (CÉREBRO E MENTE,1999). 1 Note que o texto científico sempre faz citações para corroborar afirmações. O de divulgação, nem sempre.
A cocaína também afeta outros sistemas de neurotransmissão, como os que utilizam noradrenalina, endorfinas, GABA e acetilcolina. O mecanismo de ação da cocaína é a inibição dos processos do tipo I da recaptação (norepinefrina e dopamina a partir da fenda sináptica ao terminal de pré-sináptica, que facilita a acumulação de noradrenalina ou dopamina na fenda sináptica.2 (…). 2 Note que o texto científico não tem a menor preocupação se só um leitor muito especializado consegue entender tantos termos técnicos juntos.
A ação no transporte de dopamina é a mais importante, pois reforça os efeitos da cocaína no organismo, o que leva à dependência. Os efeitos de prazer ocasionados pela cocaína são devidos principalmente ao fato de a cocaína inibir a recaptação neuronal de dopamina, deixando muita dopamina livre na fenda sináptica. Isso também ocorre com a noradrenalina e a 5 – HT, mas com menor significância (CARVALHO, 2006).
A dopamina, a noradrenalina e a serotonina depois de sintetizadas são armazenadas dentro de vesículas sinápticas. Quando chega um impulso elétrico no terminal nervoso, as vesículas se direcionam para a membrana do neurônio e liberam conteúdo, por exemplo, da dopamina, na fenda sináptica. A dopamina, então, atravessa essa fenda e se liga aos seus receptores específicos na membrana do próximo neurônio (neurônio pós-sináptico). Uma série de reações ocorre quando a dopamina ocupa receptores dopaminérgicos daquele neurônio: alguns íons entram e saem do neurônio e algumas enzimas são liberadas ou inibidas.1↥ Após a dopamina ter se ligado ao receptor pós-sináptico ela é recaptada novamente por sítios transportadores de dopamina localizados no primeiro neurônio (neurônio pré-sináptico). Quando a cocaína entra no sistema de recompensa do cérebro, bloqueia os sítios transportadores dos neurotransmissores acima mencionados (dopamina, noradrenalina, serotonina), os quais tem a função de levar de volta estas substâncias que estavam agindo na sinapse. Uma vez bloqueados estes sítios, a dopamina e outros neurotransmissores específicos não são recaptados, ficando, portanto, soltos no cérebro até que a cocaína saia.2↥, 33 Veja como esses dois trechos falam, basicamente, a mesma coisa.
Trecho extraído de:
DA CRUZ, Regina Alves; GUEDES, Maria do Carmo Santos. “COCAÍNA: ASPECTOS TOXICOLÓGICO E ANALÍTICO.” Revista Eletrônica FACP 4 2013. Disponível em <link> Acesso em: 22 nov. 2022.
Um artigo de divulgação científica
As trilhas do pó
Até pouco tempo atrás acreditava-se que os efeitos desse alcalóide extraído das folhas ovaladas da coca (Erythroxylum coca), arbusto comum na Bolívia, no Peru e no Equador, se devessem apenas a sua interferência no mecanismo de ação da dopamina, uma das moléculas naturalmente produzidas pelo organismo responsáveis pela comunicação entre células nervosas (neurônios). Aquele contentamento que surge com um aumento de salário há muito esperado é, em grande parte, efeito da descarga de dopamina no cérebro. A conquista dispara uma tempestade química no sistema nervoso central em que a percepção afetiva da informação está associada à liberação de dopamina, que carrega informação de uma célula nervosa a outra.1↥ Tanto a liberação da dopamina quanto sua recaptura ocorrem por meio de transportadores localizados na membrana dos neurônios que a produziram.
Mas ao chegar ao cérebro a cocaína causa um curto-circuito. Como uma comporta que barra um rio e faz as águas transbordarem4, a cocaína impede a recuperação da dopamina liberada e provoca uma espécie de inundação cerebral. Enquanto dura o efeito da cocaína, é como se o cérebro sofresse uma sobrecarga de dopamina por receber uma boa notícia, seguida de outra e mais outra, até que o efeito da droga passe.2↥4 Já o texto de divulgação usa metáforas e elas ajudam muito a descrever os processos.
Trecho extraído de:
ZORZETTO, Ricardo. As trilhas do pó – Composto inibe ação da cocaína e ajuda a elucidar sua ação no cérebro. Revista FAPESP: ed. 130, dez. 2016. Disponível em <link> Acesso em: 22 nov. 2022.
Note que o artigo científico parte de um pressuposto: que o leitor já sabe o que é o significado de cada um dos termos científicos mencionados e, por isso, não precisa fazer uso de exemplos e analogias como o texto de divulgação faz. O processo explicado é basicamente o mesmo nos dois textos, só que o texto de divulgação usa dois exemplos que fazem com que leitores não especializados consigam entender a ideia. Primeiro dá o exemplo do salário, depois o exemplo da barreira no rio. E essa é a beleza da divulgação científica, explicar ideias inacessíveis para um leitor, por meio de outras ideias que ele já tem.
De certa maneira, é como se no texto de divulgação, o autor fizesse um grande esforço para chegar até o leitor com uma mensagem que ele entenda da melhor maneira possível. No texto científico, é como se o leitor tivesse que se esforçar para chegar até a mensagem.
Como gênero do discurso
 Toda situação de comunicação envolve um texto, um enunciado (seja ele verbal ou não). Uma classificação muito usada para categorizar as diferentes situações de comunicação, é a de gêneros textuais. Ela foi primeiro desenvolvida por um filósofo da linguagem russo chamado Mikhail Bakhtin (1895- 1975).
Toda situação de comunicação envolve um texto, um enunciado (seja ele verbal ou não). Uma classificação muito usada para categorizar as diferentes situações de comunicação, é a de gêneros textuais. Ela foi primeiro desenvolvida por um filósofo da linguagem russo chamado Mikhail Bakhtin (1895- 1975).
Os gêneros do discurso podem ser entendidos como categorias de análise que nos permitem olhar para o que há de mais rico na comunicação: as interações sociais. Os gêneros olham, portanto, para quem produz (locutor) a mensagem (enunciados), quem recebe a mensagem (interlocutor), as condições de produção da mensagem, as relações de poder em jogo, a estrutura, o estilo e, obviamente, o próprio conteúdo da mensagem.
O que isso tem a ver com a divulgação científica? Tem a ver com o fato de que tanto o texto científico, quando o texto de divulgação científica, podem ser considerados gêneros do discurso e funcionam segundo certas características mais ou menos estáveis. Dá para perceber um certo padrão entre os diferentes textos de divulgação (sejam artigos, vídeos, infográficos, ou qualquer outra mídia).
E o melhor disso é que aí mora uma excelente oportunidade de tornar as coisas mais interdisciplinares em sala de aula. É entendendo, explorando e evidenciando essas questões que o conteúdo de ciências naturais começa a fazer sentido em outras áreas, como as ciências sociais e da linguagem, por exemplo.
Para saber mais sobre as relações entre os gêneros textuais e a divulgação científica, recomendamos a leitura destes artigos:
DA CUNHA, Marcia Borin; GIORDAN, Marcelo. A divulgação científica como um gênero de discurso: implicações na sala de aula. VII ENPEC, 2009. Disponível em: <link>
TARGINO, Maria das Graças. Divulgação científica e discurso. Comunicação & Inovação 8, n° 15, 2007. Disponível em: <link>
Veja aqui como isso funciona na prática.
Como prática de jornalismo
Quem sabe explicar melhor ao grande público um conceito ou questão da ciência: um(a) cientista ou um(a) jornalista?
Esta é uma questão apenas provocativa, porque o problema é bem mais complexo do que “explicar melhor”.
O fato é que a divulgação científica é sim parte do jornalismo. Dentre as várias missões do jornalismo, está também a de informar a população sobre temas da ciência. E, como prática jornalística, a divulgação científica compartilha a finalidade de outros textos jornalísticos: deve ser clara, objetiva, acessível, compatível com os canais de mídia e seus formatos, e de ser compreendida por todos.
Não por menos, quase todo jornal, revista, canal ou programa de jornalismo tem lá sua coluna/seção de ciência. E também há um movimento contrário: muitas plataformas de ciência e grupos de pesquisa acadêmicos se propõem a oferecer sua seção de jornalismo, para se conectarem com o público geral.
Explicar uma informação técnica para o público não especializado é uma tarefa complexa. Quando o(a) jornalista (e profissionais correlatos) se propõe a explicar um tópico da ciência, tem uma vantagem: sabe trabalhar a mensagem como alguém que é “externo” à ciência. É daí também que vem a desvantagem: precisam explicar ideias com clareza, sem dominar completamente o conteúdo que estão explicando.
Do outro lado, quando é o(a) cientista quem se propõe a divulgar ciência, já conta um segurança para navegar sobre o tema do qual é especialista. O desafio passa a ser justamente outro: como explicar de maneira clara um assunto que é muito complexo para quem é especialista nele.
Como prática da ciência
Talvez mais importante do que os divulgadores fazerem o esforço de despertar o interesse da sociedade para a ciência, seja a ciência incorporar a comunicação do conhecimento ao grande público como uma de suas tarefas.
Não necessariamente todos os cientistas estão interessados ou comprometidos a tornarem suas pesquisas e o conhecimento científico mais acessível, o que é uma pena. Todavia, ao pensarmos no valor que o conhecimento científico tem, é indispensável levarmos em conta que ele precisa ser democrático para ser relevante.
Além de produzir pesquisa, orientar decisões e promover o desenvolvimento tecnológico e científico, entendemos que a comunicação com o grande público é sim tarefa da ciência. Ela precisa lutar para que mais e mais pessoas consigam acessá-lo, principalmente porque a ciência e a produção do conhecimento são práticas essencialmente sociais.
Como instrumento para promover o conhecimento
Nada melhor do que dois exemplos que mostram como a divulgação científica é um instrumento poderoso para disseminar o conhecimento para toda a sociedade.
Neste primeiro, o texto mostra vários exemplos da importância da divulgação científica no combate à desinformação.
Neste segundo exemplo, o texto mostra como um produto de divulgação científica ajuda a ensinar sobre práticas antirracistas
 Exemplos
Exemplos
Um vídeo
Um vídeo
Os vídeos, especialmente em plataformas como o YouTube, podem até passar despercebidos como mídia de divulgação científica para quem está acostumado com o modelo mais clássico das revistas impressas de divulgação.
Porém, em uma plataforma na qual mais de 1 bilhão de horas de conteúdo é reproduzida DIARIAMENTE1 para públicos de todas as idades, poucos lugares são tão eficientes assim para comunicar conteúdo científico. 1 “25 YouTube Statistics that May Surprise You: 2021 Edition.” 2 Feb. 2021, <link>. Accessed 2 Nov. 2021.
Veja aqui um clássico exemplo no YouTube, um vídeo que explica de maneira bem didática como jogos online de guerra ou notícias negativas afetam o nosso cérebro.
Este canal, o ASAP Science, faz um excelente uso da plataforma do YouTube para entregar conteúdo aberto e de alta qualidade em termos de divulgação científica.
Um artigo
Pode-se dizer que os artigos de divulgação são os mais convencionais enquanto mídia de divulgação, se compararmos com os outros formatos. Ao menos até a chegada do YouTube, TikTok e outras redes sociais. Em geral, não muito extensos, com linguagem leve, didática e que procura fazer perguntas a partir da perspectiva do público geral.
Um exemplo disso é o artigo da Carola Carvalho, no blog do Pint Of Science.
A autora debate a pergunta: Por que Marte?
Um post
Exatamente! Às vezes a gente não se dá conta, mas até um post no Facebook conta como material de divulgação. Algumas páginas se especializam exatamente nisso, divulgar ciência usando o formato de post em rede social, como é o caso da página Compound Interest (em inglês).
E aqui um exemplo de post no Facebook que faz um bom trabalho de explicar por que não há alimentos naturais na cor azul.
Um anúncio
E cartazes informativos ou campanhas de conscientização contam também como material de divulgação científica.
Por exemplo, o folder disponível nesse link faz parte de uma campanha de conscientização sobre a Leishmaniose e alerta para a importância do tratamento. Além de cumprir essa função mais imediata, que é incentivar as pessoas a procurarem apoio, também traz algumas explicações sobre a própria doença e sobre os mitos relacionados a ela. Ou seja, alerta e também informa.
Pergunta & Resposta
Um formato muito usado pelos divulgadores de ciência é o Pergunta & Reposta, quando o expectador/leitor manda sua pergunta de interesse público e o divulgador (a) responde ele mesmo ou conta com o apoio de algum (a) cientista para esclarecer a questão.
O portal do Dr. Dráuzio Varella, por exemplo, tem uma seção inteira só de perguntas e respostas. E as revistas de divulgação quase todas têm uma seção de perguntas feitas diretamente ou indiretamente pelos leitores, como esta da Revista Ciência Hoje.
Ou esta, da revista Superinteressante.
 Pontos de Atenção
Pontos de Atenção
Representações do cientista
Representações do cientista
O que vem à sua cabeça quando pensa em um cientista?
Para a maioria das pessoas o que vem geralmente é: um homem, branco, de inteligência acima do normal e, de alguma forma, alguém que é dono da verdade. Quem nunca usou esse argumento em uma discussão “mas os cientistas comprovaram que…”?

A verdade é que o cientista, desde o início da ciência, é representado assim. A autora Evelin Fox Keller em seu livro “Reflexões sobre gênero e ciência [Título em inglês: Reflexions on Gender and Science]” trata questões de gênero na ciência e mostra inclusive como que a ciência foi fundada intencionalmente para ser apenas dos homens. Nas palavras de seus próprios fundadores, a Royal Society fundada em 1660, que é considerada a primeira instituição de ciência, tinha por objetivo “formar uma Filosofia Masculina … pela qual a Mente do Homem possa ser enobrecida com o conhecimento das Verdades Sólidas” (Keller, 1996, p. 52). Documentos mostram como figurões da ciência não pouparam esforços para proibir as mulheres da ciência e para transformar o cientista em alguém que revela verdades, ou seja, é inquestionável.
Há também no imaginário das pessoas que o cientista é alguém neutro, ou seja, é digno de confiança porque não tem interesses pessoais envolvidos no que fala ou que faz – o que é uma grande mentira.
O fato é que essa visão dominou e ainda domina a história da ciência até os dias de hoje. E o pior: às vezes sem perceber, a divulgação científica reproduz essas ideias. Volta e meia, os textos de divulgação usam termos que evocam uma ideia de cientistas que revelam coisas magicamente, sozinhos, com uma genialidade que não pertence ao mundo dos meros mortais. Na ânsia de valorizar ou vender certa ideia, colocam o cientista ACIMA de tudo e de todos.
Qual o problema disso? Insistir nessa visão abre margem para uma série de catástrofes na própria ciência:
Faz parecer que para ser cientista, alguém precisa ser especial, super dotado. Isso já afasta a imensa maioria dos nossos estudantes da atividade científica.
Faz com que malucos e cientistas ganhem plateia por aí e espalhem absurdos. Afinal, de onde que os terraplanistas, anti-vacina, ou negacionistas do clima tiram suas ideias? De cientistas picaretas. Note que uma vez com um diploma na mão, qualquer um pode se intitular “cientista” e pode sair falando besteira por aí. Público para ouvir a acreditar, não falta. Por isso é que é mais saudável questionar a neutralidade do cientista do que dizem amém para qualquer coisa, só porque “ele é cientista”.
Um último problema que vale a pena mencionar (embora a lista seja ainda enorme), é o fato de que o próprio público geral não consegue acessar o conhecimento científico. Isso porque a ideia de conhecimento PURO, VERDADEIRO, UNIVERSAL, OBJETIVO, entra em conflito com o mundo real, com a cultura e com a história. Entra em contradição, pois o mundo e os saberes das pessoas é tudo menos dessa forma que a ciência dominante tenta vender. E isso afasta o saber científico dos saberes empíricos vivenciados pelo público da divulgação.
Lembre-se que a divulgação científica é a principal e uma das primeiras conexões entre o conhecimento científico e o público não cientista. Quando é a divulgação científica que reproduz esse determinismo, neutralidade e endeusamento do cientista, a visão sobre quem é o cientista já nasce errada na cabeça das pessoas.
KELLER, E.F. Reflections on gender and science. New Heaven, Yale
University Press, 1996.
Representações da atividade científica
Além do que falamos ali sobre como a divulgação representa o cientista, é importante também pensar em como ela representa a atividade do cientista, ou seja, o fazer ciência.
Se perguntarmos “o que faz o cientista”, muita gente vai responder: DESCOBRE coisas. Note que a palavra descobrir tem um significado muito forte. Dá a entender que existe uma coisa escondida que só o cientista é capaz de revelar – com isso, o conhecimento científico seria mais legítimo e verdadeiro do que o cultural, por exemplo.
Muita gente pode também responder: INVENTA/CRIA coisas. Nesse caso, a atividade científica pode ser confundida como algo mágico, miraculoso. Como se Einstein e Darwin tivessem desenvolvido suas teorias a partir do nada e sem ajuda de ninguém. Como se as grandes ideias fossem criadas do zero, sem uma longa história (às vezes de séculos) que conduz até a descoberta.
Uma vez que a ciência e o cientista possuem um poder exacerbado em relação às outras áreas, a ciência chega a ser endeusada e deixa de ser confrontada.
Por isso, a divulgação científica às vezes vai nessa mesma onda e não questiona os limites éticos da atividade científica, nem as consequências socioambientais. Sabe aquela expressão que as pessoas usam para legitimar algo que é errado “pelo bem da ciência” ou “em nome da ciência”? Ela é usada na maior parte das vezes de brincadeira, mas esconde um fato: experimentos de eugenia, testes em seres humanos e animais que violam a ética de pesquisa, além do roubo de espécimes e fósseis são feitos ainda hoje “pelo bem da ciência”.
Quando a ciência é sacralizada pela própria divulgação, a atividade científica ganha legitimidade pra fazer o que quiser independentemente das consequências morais, éticas e sociais. Ou seja, a ciência ganha permissão para matar seres humanos e animais, destruir habitats e causar danos irreparáveis sem que ninguém questione. Todavia, engana-se completamente quem acha que a ciência é neutra, não mata, não causa desigualdade e não atende a interesses econômicos – também.
Por exemplo, veja aqui um artigo de divulgação que mostra algumas atrocidades feitas “em nome da ciência”.
Outro exemplo claro é o fato de estudos para as chamadas doenças negligenciadas, como a malária ou doença de Chagas, receberem menos investimento é uma coincidência, mesmo afetando significativamente a vida de milhões de pessoas.
Por isso, como essas ideias de uma ciência “pura” infelizmente ainda fazem parte do senso comum e do imaginário de muitos cientistas e divulgadores de ciências, defendemos que a divulgação científica, para fazer sentido, precisa ser feito de modo muito consciente e lutar contra essas representações inadequadas do fazer ciência e do cientista.
Positivismo científico
E aqui cabe pensar nas razões pelas quais o imaginário coletivo sempre legitima a produção científica (das ciências naturais) acima de todos os outros saberes. O pesquisador e divulgador de ciência Carlos Fioravante nota que temos uma tendência a sermos otimistas em relação à ciência: “Nossa tendência é ser otimista porque confiamos no valor intrínseco da ciência, ou seja, tudo deve ir bem já que a pesquisa é feita para o bem da humanidade.” (FIORAVANTE, 2013, p. 328)
Porém, ele chama atenção para uma outra questão:
(…) a produção de conhecimento decorre da interação de grupos distintos de atores, não apenas de cientistas, com interesses igualmente distintos. A ciência torna-se então um fenômeno social e coletivo, que pode emergir, avançar ou morrer como resultado de negociações, conflitos e impasses entre os interessados. (FIORAVANTE, 2013, p. 317)
Ou seja, a produção de conhecimento não é algo que a ciência faz sozinha e depois distribui para os outros campos e atores se virarem com os resultados. Ela é, na verdade, feita por e com os outros atores interessados. Atores da política, da economia, empresários, das universidades e centros de pesquisa, sociedade civil, religiosos e todo tipo de atores possíveis. E, por isso, os divulgadores precisam ser mais questionadores e ir atrás das condições de produção e interesses que levam à produção de conhecimento, segundo mostra Fioravante em sua pesquisa.
Não existe essa história de conhecimento e de ciência desinteressados. E a divulgação precisa saber muito bem disso. Segundo Márcia da Cunha e Marcelo Giordan, pesquisadores da divulgação científica,
A ciência é uma prática social e, como tal, não pode ser vista como independente ou desvinculada do sujeito e das ideologias que o constituem. Do mesmo modo, a Ciência não surge do acaso, ela é fruto de um processo cultural e histórico. Todos estes fatores têm reflexo na constituição e estruturação do discurso da Ciência, seja ele, nos processos de disseminação do conhecimento da Ciência na academia ou nos processos de popularização da Ciência (divulgação científica)” (CUNHA & GIORDAN, 2009 p. 2)
Portanto, a ciência faz sim descobertas muito positivas e promove o desenvolvimento coletivo, melhora a qualidade de vida e o bem estar da sociedade. Porém, principalmente em sala de aula, é preciso entender como e a partir do que se queremos que nossos estudantes formem o pensamento crítico para ler as questões da sociedade e até mesmo serem melhores cientistas e divulgadores.
Para se aprofundar nestas questões:
FIORAVANTI, Carlos Henrique. Um enfoque mais amplo para o Jornalismo Científico. Intercom: Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. v. 36, n. 2, pp. 315-332, 2013. Disponível em: <link>
CUNHA, M.; GIORDAN, M. A divulgação científica como um gênero de discurso: implicações em uma sala de aula. In: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciência, 7, 2009, Florianópolis. Anais […]. Belo Horizonte: ABRAPEC, 2009. Disponível em: <link>
Ciência desproblematizada não faz bem
Por que será que o jargão “foi comprovado cientificamente” tem tanto peso assim na disputa de opinião?
Uma concepção de ciência muito importante a ser observada na divulgação científica vem da contribuição de alguns sociólogos da ciência como Bruno Latour, Pierre Bourdieu e Evelyn Fox Keller. Suas pesquisas do ponto de vista da sociologia mostram que a ciência funciona como um campo com grande prestígio e legitimidade sociais, detém poderes e suas afirmações são vistas como sendo sempre verídicas. Ou seja, a ciência chega a ser endeusada. Entretanto, não passa de um campo como qualquer outro, no qual até a própria noção de verdade e de um fato são construídos socialmente, uma vez que a ciência e o conhecimento são essencialmente sociais.
Para Bruno Latour, por exemplo, a arte da persuasão é o principal instrumento do cientista e a produção de artigos é a finalidade de suas atividades (Latour, et al., 1997). Ou seja, ao invés de descobrir fatos, dados, números e revelar o conhecimento, o cientista trabalha para construir uma verdade. Portanto, a ciência funcionaria como qualquer outro campo, a exemplo, a literatura. Ainda, um aspecto interessante apontado por Bruno Latour, é que na construção de verdades, o cientista o faz de modo tão convincente, que esse produto passa a ser visto como um fato, totalmente independente do pesquisador, do laboratório e até do referencial histórico.
O que queremos chamar a atenção aqui é para o fato de que a ciência precisa começar a ser problematizada também na divulgação científica, não só pela sociologia da ciência. Afinal, por causa da forma como nós educadores e a sociedade representamos a ciência, os estudantes simplesmente não são capazes de reconhecer as dimensões socioculturais da ciência. E acabam por não se reconhecer na ciência nem no conhecimento que ela produz. Daí eles geralmente seguem dois caminhos: ou não acreditam na ciência, ou tornam-se aqueles que reproduzem os estereótipos.
Ficção científica
Frequentemente na divulgação científica, os cientistas são retratados como capazes de editar, cortar, transformar e recriar o corpo humano e a natureza. Seja através do uso de imagens ou pela escolha de determinadas palavras, a atividade científica é às vezes supervalorizada de um modo que está mais para ficção científica do que outra coisa.
Embora possa ser verdade que a engenharia genética ou a exploração espacial tenham ganhado tanto território na ciência contemporânea, e nos tornaram menos capazes de distinguir o que é ciência ficcional do que não é, a divulgação da ciência precisa ser coerente com seu propósito e não iludir os leitores com manchetes falsas só para chamar a atenção.
Atualmente é possível enviar civis para o espaço, fazer entregas com drones autônomos, e criar órgãos humanos inteiros em laboratório. Novas técnicas, conceitos e instrumentos vão empurrando cada vez mais a fronteira da ficção para longe e jamais saberemos o limite.
Porém, continua sendo antiético quando divulgadores de ciência anunciam promessas e feitos que estão mais para conversa de político do que qualquer outra coisa, no intuito de tornar o texto mais interessante ou de chamar a atenção dos leitores.
Interdisciplinaridade à vista
Ao analisar um discurso ligado à ciência em sala de aula, é possível trazer luz às questões de várias áreas do conhecimento. Veja aqui dois exemplos de como isso acontece.
Analisando apenas a chamada deste artigo da revista Superinteressante, dá para pensar nas seguintes questões em sala de aula:
E, analisando apenas a capa desta revista que fala sobre as vacinas, dá para levantar inúmeros pontos de outras áreas além da ciência, especialmente no que diz respeito à arte, linguagem, história e geografia:

Contextualização
Com a divulgação científica como prática de aprendizagem, é possível ir além do conteúdo pelo conteúdo, quando ele é apresentado em uma forma que o isola do mundo fora da sala de aula.
Além de ser uma ótima forma de aprender sobre ciência, a divulgação científica pode ser uma forma de conectar os estudantes com o contexto ao seu redor. Se você propor atividades e projetos que envolvam a comunicação de conteúdos da ciência para a comunidade à qual pertencem, você cria espaço para:
– os estudantes se engajarem em questões relevantes para a comunidade e contribuírem com conhecimento.
– reduzir a distância entre o mundo empírico que os estudantes vivenciam e o mundo conceitual ou abstrato.
– dar significado e relevância ao que é aprendido e ensinado, para além da avaliação.
– Contribuir com o letramento científico das pessoas em espaços não formais de aprendizagem.
Explicar também é aprender
Se você é professor ou professora, com certeza sabe que uma das melhores formas de aprender bem sobre algo, é explicando.
Portanto, nada melhor do que propor aos seus alunos(as) o exercício de ensinar sobre algo, usando para isso a Divulgação Científica.
Impacto na comunidade – a partir da escola
Quer uma prova de que grandes divulgadores e divulgadoras de ciência já nascem dentro da escola? A estudante de Ensino Médio de Macaé (RJ), Juliana Pinho, começou a fazer vídeos de história e políticas globais com o objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento à estudantes brasileiros. Seu canal, o HISTORIAR-TE, além de tudo, é um excelente canal para quem está se preparando pro ENEM.
Iniciativas como essa nos inspiram a pensar no potencial que o protagonismo dos jovens tem para não só receber o conteúdo de divulgação, mas para serem os próprios divulgadores.
Conheça a história da Juliana aqui, que é uma das premiadas no programa Jovens Transformadores da Ashoka:
E aqui você acessa o canal dela no YouTube, que tem mais de 150 mil inscritos.
E o papel do professor?
Em uma pesquisa muito interessante que debate sobre os usos da divulgação científica em sala de aula, os pesquisadores Guilherme Lima e Marcelo Giordan chamam a atenção para alguns pontos importantes.
O primeiro deles é que o contato do professor com a divulgação científica faz toda a diferença. Nesse sentido, antes de utilizá-la como proposta pedagógica, o professor precisa conhecer e analisar como ela pode ser empregada em sala de aula.
Eles lembram também que embora a divulgação científica não tenha nascido para sala de aula, ela é um dos inúmeros recursos que podem ser usados para preparar aulas. Cabe ao professor fazer as apropriações possíveis.
Ainda segundo os pesquisadores:
A DC entra em sala de aula como uma apropriação do professor para corroborar com os processos formativos e com a aprendizagem de conceitos científicos. Portanto, o uso da DC em situações de ensino está em função dos sentidos que este recurso pode gerar. Se por um lado a apropriação da DC pelo professor é o primeiro processo para o uso dessa ferramenta em sala de aula, por outro, a compreensão é o processo que sustenta seu uso, que está orientado para promover a aprendizagem de conceitos, técnicas, habilidades e atitudes referentes à Cultura Científica. (LIMA e GIORDAN, p. 6)
Portanto, nesse processo, ajuda conhecer a divulgação científica a partir de diferentes perspectivas, por exemplo algumas que temos apontado aqui:
- Como prática de jornalismo
- Como prática da ciência
- Como prática da linguagem e comunicação
- Como prática de conhecimento
E não somente isso, ajuda muito fazer o preparo das aulas que envolvem a divulgação científica junto com outros professores. Pois é a partir de cada disciplina que uma rede interdisciplinar vai se tecendo. Ninguém é especialista em todas as áreas do currículo, então a contribuição diversificada é quem vai ampliando os alcances das práticas.
Artigo do Guilherme Lima e do Marcelo Girodan:
Lima, Guilherme da Silva; Giordan, Marcelo. – PROPÓSITOS DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO PLANEJAMENTO DE ENSINO – Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte); v.19, 2017.
Disponível em: <link>


Canal Audino Vilão
Recomendamos aqui o canal Audino Vilão por um motivo muito especial: mostrar como um bom uso da linguagem faz toda a diferença na hora de acessar o expectador. E o Audino Vilão faz isso muito bem, conectando a filosofia com a periferia.


Portal Dráuzio Varella
O portal do Dr. Dráuzio Varella é de especial importância, pois ele e a equipe por trás do portal conseguem se comunicar muito bem com um público muito amplo. Isso contribui enormemente para a prevenção de doenças e incentiva as pessoas a procurarem tratamento, quando necessário. Informação de saúde é coisa séria e o portal do Dr. Dráuzio faz política pública de saúde com muita qualidade.


Manual do Mundo
Já indicamos o Manual do Mundo no outro guia sobre STEAM education [LINK], pois é uma fonte inesgotável de atividades para fazer em sala de aula. Só que vale a indicação aqui também, pois é um canal que comunica ciência e responde questões super relevantes do nosso dia-a-dia. Confere lá!

RedeComCiência
A RedeComCiência não é exatamente um canal de divulgação científica, mas uma rede que reúne divulgadores. Para quem quer começar a fazer divulgação científica, eles têm vários conteúdos super bacanas de formação e com um olhar bastante atento a uma divulgação científica compromissada com a sociedade.


Canal Peixe Babel
O canal Peixe Babel é um canal da Mila Laranjeira e da Vivi Mota que explica tudo sobre tecnologia, programação e pensamento computacional. Além disso, é um excelente exemplo de como divulgadores conseguem partir de uma área do conhecimento para buscar interdisciplinaridade e expansões para outras várias áreas.


Ciência pelos olhos delas
O blog Ciência pelos olhos delas é faz um excelente trabalho divulgar ao público geral a contribuição das mulheres científicas para o progresso da pesquisa. Com uma equipe de cientistas e divulgadoras de ciência super qualificadas, o blog contribui para democratizar o acesso à ciência.


Ciência Explica
Ciência Explica é um site de divulgação científica que conversa de forma direta, criativa e contextualizada com o público. A proposta é oferecer conteúdo original sobre ciência com ênfase na diversidade da ciência desenvolvida no Brasil, bem como desfazer os estereótipos nas áreas científicas.


Invivo
O Invivo é um portal de divulgação científica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) voltado para educadores e alunos. O site disponibiliza artigos, notícias e entrevistas sobre Biodiversidade, Ciência e Tecnologia, Saúde, História, Sustentabilidade.


Nerdologia
Canal no Youtube do doutor em microbiologia e pesquisador brasileiro, Atila Iamariano. Os seus vídeos abordam temas relacionados à Ciências e Biologia.


Física e Afins
Canal no Youtube da PhD em Física Teórica de Partículas Gabriela Bailas. Em seus vídeos ela compartilha informações esclarecendo o uso inadequado de termos científicos nas áreas de misticismo, astrologia e autoajuda.
A análise do discurso e a estrutura da comunicação
Falamos ali atrás que os textos de divulgação científica (não só texto escrito, vídeos e posts contam também) possuem uma estrutura específica. E na seção do Mapa, comentamos que ela pode ser entendida também como um gênero do discurso.
Isso quer dizer muita coisa. Mas, em resumo, significa que os textos de divulgação compartilham características comuns entre si. Inclusive, é isso que permite a gente reconhecer um texto de divulgação como tal, e não como uma poesia, por exemplo. E também permite a gente separar claramente um texto de divulgação e um artigo científico. Não quer dizer que todo texto ou vídeo tem que ser igual para ser chamado de texto de divulgação, mas que há uma certa margem para ele existir como tal.
Nestes textos, o tipo de linguagem, o locutor (quem fala) e o interlocutor (quem recebe a mensagem), os exemplos, as intertextualidades, as imagens e as ideias veiculadas trabalham para construir uma mensagem cujo objetivo final é: comunicar ideias da ciência para pessoas que não são necessariamente cientistas.
Bora ver como funciona? Fizemos uma análise de dois textos para extrair alguns destes elementos de que a gente está falando. Aliás, um ótimo exercício é fazer isso com os alunos em sala de aula.
As medidas de distanciamento social drástico (lockdown) adotadas pelos governos para tentar conter o avanço da pandemia melhoraram a qualidade do ar em algumas das principais cidades do mundo, mas não no nível que os cientistas esperavam. A conclusão consta de um estudo que avaliou a concentração de alguns dos poluentes mais nocivos à saúde humana em 11 metrópoles da Europa1, China, Índia e Estados Unidos. O pesquisador Zongbo Shi, da Universidade de Birmingham2, Reino Unido, e seus colaboradores verificaram que, com mais pessoas em casa, os níveis de dióxido de nitrogênio (NO2) diminuíram entre 10% e 50%3 em todas as cidades (Science Advances, 13 de janeiro). Eles observaram, porém, um aumento de 30% nos níveis de ozônio (O3). Tanto o NO2 como o O3 estão associados a problemas respiratórios. Os pesquisadores constataram ainda uma diminuição em nove metrópoles dos níveis de material particulado fino (PM 2.5), um dos mais nocivos4 – as exceções foram Londres e Paris. Mesmo nas cidades em que o poluente diminuiu, seus níveis ainda permaneceram superiores aos recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
1 Note que, geralmente ao descrever um estudo, os artigos indicam a amostra considerada. Isso ajuda a dar uma ideia do quão representativas são as conclusões do estudo. Dá contexto para o leitor.
2 Note que uma reportagem científica tende sempre a mostrar quem realizou a pesquisa e não somente isso. Fala também de onde são os pesquisadores. Isso contribui como uma espécie de argumento de autoridade, ajuda a construir no leitor o imaginário de que é qualificado para tal.
3 O uso de dados e, especialmente porcentagens, é uma estratégia muito comum nos textos de divulgação científica.
4 Note que ao apresentar um termo não muito conhecido “material particulado fino”, é comum que os artigos apresentem uma breve explicação do que ele quer dizer: “é um dos mais nocivos”. Isso ajuda a manter o leitor dentro do raciocínio.
*Este texto foi originalmente publicado por Pesquisa FAPESP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui.
A Amazônia perde o gás1
Estudos indicam que o leste da floresta, mais desmatado, virou fonte de dióxido de carbono na última década, enquanto o oeste tenta se manter como sumidouro.2
1 É muito comum que conteúdos de divulgação apresentem trocadilhos e intertextualidade já no título. A ideia é chamar a atenção do leitor e atribuir leveza ao conteúdo.
Aqui, por perde o gás, o autor usa de uma expressão para dar a entender que a Amazônia está cansada. Mas também quer dizer que está perdendo gases no sentido químico.
2 Um subtítulo que apresenta a principal informação ajuda em muitos casos, especialmente em artigos mais longos ou complexos. Assim o leitor já cria uma ideia antes mesmo de começar a ler o conteúdo.
3
3 As imagens também ajudam muito a compor a matéria. Mais do que meramente ilustrativas, elas ajudam a descrever em linguagem não-verbal o que o artigo está contanto. Além disso, elas podem ser um ótimo gancho para captar o interesse do leitor.
Divulgado em dezembro passado, o mais recente relatório do Global Carbon Project estima que, desde a década de 1960, as plantas terrestres retiraram da atmosfera cerca de um quarto do dióxido de carbono (CO2), o principal gás de efeito estufa que contribui para o aumento do aquecimento planetário4, emitido pela queima de combustíveis fósseis. Esse efeito benéfico ao clima ocorre porque a taxa com que os vegetais fazem fotossíntese – e, portanto, consomem o CO2 disponível no ar para se manter vivos e crescer – é ligeiramente maior do que o ritmo de emissão de dióxido de carbono por meio da queima de biomassa, da decomposição de material orgânico e da respiração das plantas. A diferença a favor da coluna das absorções em relação à das emissões é pequena, de cerca de 2%, mas suficiente para tornar as florestas, sobretudo as densas e exuberantes matas tropicais, importantes sumidouros de carbono. Esse termo é usado para designar as áreas em que as absorções de carbono superam as emissões.5
4 Note que logo após apresentar um nome técnico, o dióxido de carbono, o artigo já vai explicando o que ele faz. Ou seja, não deixa o leitor se virar com termos técnicos, ao contrário do que faria um artigo científico.
5 Quando o locutor (quem fala) faz determinadas explicações como essas, ele tem uma certa imagem de quem é o interlocutor (quem recebe a mensagem). Ou seja, o locutor assume que é necessário acrescentar uma explicação aqui para o termo “sumidouro de carbono”, pois o interlocutor teria dificuldades de entender de primeira.Por ser a maior floresta tropical, com cerca de 80% de sua área ainda preservada, a Amazônia é considerada um dos mais importantes sumidouros de carbono. Mas estudos feitos ao longo dos últimos 10 anos, com o emprego de diferentes metodologias analíticas, como dados de satélites, registros de crescimento e mortalidade de árvores e amostras sistemáticas do ar sobre a floresta, indicam que o leste da Amazônia virou uma fonte de carbono na década passada, ou seja, a quantidade de CO2 que saiu desse setor do bioma superou a que entrou. A situação é particularmente preocupante no sudeste da Amazônia, entre Pará e Mato Grosso, região em que fica o chamado Arco do Desmatamento, que concentra o grosso das intervenções humanas, sobretudo o desflorestamento, sobre a área. O mais recente trabalho a traçar esse quadro é um estudo de longo prazo coordenado pela química Luciana Vanni Gatti, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)6, cujos principais resultados foram descritos em um artigo publicado na revista Nature em meados de julho.
6 Note como sempre a instituição de pesquisa é usada tanto para apresentar a pesquisadora, quanto para legitimar a pesquisa. Uma coisa é o artigo falar “um estudo feito pela Luciana Vanni Gatti.” Outra coisa totalmente diferente é ele falar “um estudo feito pela Luciana Vanni Gatti do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.”
7
7 O uso de infográficos, gráficos, mapas e outros recursos visuais são super importantes e utilizados na divulgação científica. Mesmo no caso de quem se concentra em fazer vídeos. Eles ajudam a explicar determinados resultados de maneira muito mais simples visualmente e rápida. Sem contar que, no caso de mapas, por exemplo, situam o leitor dentro de algo que faz parte do repertório dele.

Visões de ciência e a Divulgação Científica engajada

Capital
Emilio
Divulgue seu canal aqui!
Faça seu post
Jogue um post aí pra todo mundo!
3 thoughts on “Faça seu post”
Leave a Reply Cancel reply
Dá para vocês falarem mais sobre isso?
Este Guia está em constante construção – assim como os usos da Divulgação Científica em sala de aula. Ele continuará a ser atualizado conforme os divulgadores vão publicando novas ideias e conteúdos, novas pesquisas são publicadas e novas questões na área da comunicação científica. Portanto, se você tiver perguntas, comentários adicionais ou reclamações, mande pra gente!>> Privacy Policy
Who we are
Suggested text: Our website address is: https://dc.dteach.org.
Comments
Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.
An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.
Media
Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.
Cookies
Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.
If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.
When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.
If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.
Embedded content from other websites
Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.
These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.
Who we share your data with
Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.
How long we retain your data
Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.
For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.
What rights you have over your data
Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.
Where we send your data
Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.














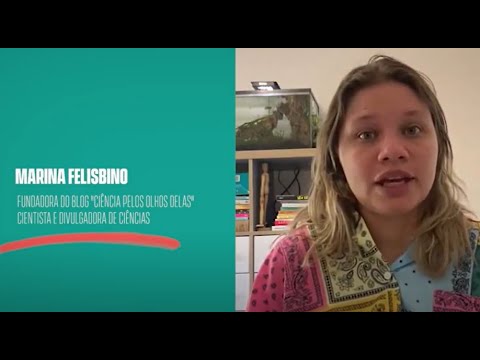


Comentário
Comentário 2
alskfjlaksfj